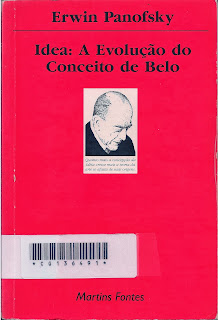Cartas na rua foi o primeiro romance lançado por Bukowski, sua
primeira edição no Brasil saiu em 1971, depois a brasiliense
comprou os direitos do livro e lançou uma nova edição em 1983 e
finalmente, em 2011, a L&PMPocket comprou os direitos e lançou a
edição mais recente. Imagino que a fama de Charles Bukowski não
era muito grande durante os tempos da ditadura, e para alguém que
nasceu nos anos 1990, conseguir esta primeira obra não foi tarefa
fácil. Neste ponto a L&PM faz um bom trabalho lançando obras a
um preço acessível (quanto você gasta em cerveja no boteco sem
reclamar?) e é a editora que vêm publicando quase tudo do velho
Buk.
Parece que isso não ocorre devido a alguma cruzada cultural, sejamos
sinceros, Bukowski vêm ganhando cada vez mais espaço entre os
brasileiros, logo é um bom negócio garantir todos os setores do
mercado. Amamos sua prosa e desconhecemos seus poemas, mas isso não
nos faz menos fãs. Creio que seu sucesso vêm pelo simples fato de
abordar os delírios cotidianos, brigas medonhas com o vizinho ou com
a mulher, bebedeiras em bares sujos e baratos apinhados de bêbados
desempregados ou em empregos horríveis. Toda cidade tem seu templo
do álcool, é fácil se identificar. Charles Bukowski traz toda essa
experiência para sua literatura e nos deixa fascinado, seu ritmo é
igual ao ritmo das ruas.
Entretanto percebo que as pessoas se focam muito numa imagem de sexo,
drogas e rock'n'roll em seus livros, mesmo que ele deixe claro que
odeia rock e qualquer coisa que não seja Mahler, Bach ou Chopin. Sua
bebedeira não passa de desespero com o mundo que vive, Bukowski não
é nem um pouco iludido com essa realidade, e talvez esteja ai o
ponto chave de nosso fascínio com o autor. O que ele deseja sempre é
algo simples, seus momentos mais felizes nas histórias sempre são
com boa comida e boa casa, sossego, por mais estranho que seja. Não
há um grande idealismo em seus escritos, pode haver muita erudição
não explícita (parece que ele odiava sujeitos que vomitam sua
erudição em conversas, blogues e etc), mas sua desilusão é o
ponto chave. Chinaski não quer mudar o mundo, não quer fazer a
engrenagem continuar girando.
As aventuras sempre ocorrem em questões cotidianas, principalmente
na luta por estar vivo. O bizarro é que, mesmo declarando toda sua
aversão ao trabalho, é normal boa parte da trama ocorrer neste
espaço que mais ocupa nosso tempo acordado. Sua descrição em
cartas na rua nos obriga a pensar no regime com que as pessoas nos
correios trabalham, coisa que sempre esquecemos quando compramos
nossos lindos produtos pela internet e ficamos desesperados esperando
que cheguem logo, esquecendo que são pessoas que fazem todo aquele
serviço pesado – e como pesa carregar papel!
Sua subversão está em não aceitar o óbvio, e alguém precisa nos
dizer isso.
Dai que vejo um lado em seus escritos, pouco claro e confuso, em
relação ao machismo nosso de cada dia. Seus heróis amam mulheres,
por mais que seja de uma forma carnal, não se nega paixão alguma
por elas. Até ai tudo normal, isso se percebe em Goethe ou
Dostoievski, mas em seus escritos há algo lindo que deveríamos
tentar praticar mais, Chinaski não tenta prender ninguém, nenhuma
mulher é uma posse dele, elas estão com ele, enquanto assim
quiserem. Seus personagens não são possessivos, podem ser
estúpidos, mas evitam possuir pessoas, este ato pode nos salvar do
fascismo. Em alguns pontos seus escritos são tremendamente estúpidos
e estão longe de terem ares feministas, porém ele evita ser o
machão, na verdade até mesmo zomba deste tipo garanhão. Seus
personagens, assim como a maior parte de nós, não são machos alfa
e amamos ver que não existe nada de errado nisso.