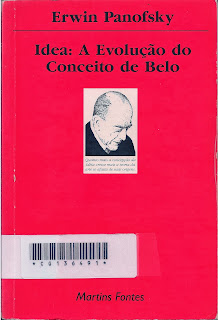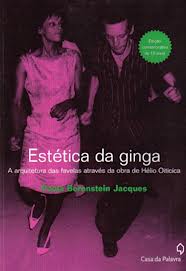Estética é uma palavra chique, “tá na boca do povo” quando se
quer discutir o belo e a beleza. Até mesmo os salões de beleza vêm
mudando seu nome para salões ou clínicas de estética. Uma
discussão mais séria reconhece que a concepção de beleza não é
única, que ela pode variar entre duas pessoas, mas não para por ai.
Não devemos cair nessa armadilha semântica da palavra subjetividade
e acreditarmos que meu eu é único e surge como que de um
nada original único, misterioso e exato feito a existência de Deus,
de alguma forma Foucault já nos alertou sobre isso. Mesmo assim, por
incrível que pareça, não diminui-se em nada a concepção estética
de cada um, ela continuará existindo, será ainda assim particular a
cada um. Porém existem pontos em comum.
Antes de acharmos ou vermos algo belo nós o imaginamos, definimos
seus contornos em nossa mente, formamos sobre a beleza uma Ideia. O
artista pensa sobre a criação antes de criá-la. Desta Ideia surge
nosso senso estético, que servirá tanto para julgar quanto para
criar – ou destruir – algo. Ou seja, antes de vermos ou julgarmos
o belo e o bom, nós o imaginamos, pensamos. O primeiro lugar de
pensamento estético é abstrato, depois partimos para obras e
situações reais. Um exemplo pode ser o uso de drogas, tal qual foi
feito por Baudeleire, que é um ótimo exemplo, pois o uso de
substâncias feito por Baudeleire tinha objetivos e intenções
completamente diferentes do de várias outras pessoas que também
consomem ou consumiram as mesmas substâncias. Logo, não é o uso de
uma substância que definirá seu senso estético, mas seu senso
estético que interfere na sua experiência. Uma pessoa que viu um
quadro surrealista não é necessariamente admirador da estética
surrealista. É necessário todo um preparo e abstração, uma
composição de ideias para a formação de um senso e opinião
estéticas.
Neste sentido as pessoas tem um processo de desenvolvimento
individual particular, o que não leva dois irmãos, por exemplo, a
terem os mesmos gostos e opiniões, seja sobre política ou estética.
O desenvolvimento estético inicia antes da experiência, seja da
aventura ou da contemplação de uma arte. É a partir da Ideia que
se estabelece no campo abstrato, que ela refletirá num campo mais
tátil e material: a exemplo da escolha entre um filme russo ou
brasileiro, assim como torcer o nariz para uma música e dançar
outra. Estes processos, por mais que sejam criações mentais, não
são falsos, eles existem, tem sua materialidade, uma careta de
desagrado tem seu peso real. Não se nega em momento algum da
particularidade de cada ser, só é impossível investigá-las
individualmente.
O ponto tátil que podemos lidar nisto tudo acaba sendo o tempo e
espaço compartilhado por todos. A família de um sujeito é
diferente da de outro, o que já implica diretamente numa formação
diferente para cada um, porém ambos os indivíduos estão cercados
pela história, afinal é este um chão que temos para nos apoiar.
Como partimos dela e nos movimentamos com o tempo, ela deixará
marcas em nós, muitas vezes contra e muitas vezes em consentimento
com nossa vontade, tal qual cicatrizes e tatuagens. Partindo disto, a
concepção de beleza pessoal de cada um, passa pela formação de
uma Ideia estética. A formação de concepção estética, desta
Ideia, deste senso, tem uma relação direta com nosso tempo. Não
fosse por isso ela seria sempre a mesma, e não é, já que o ser
humano não é um ser atemporal. A exemplos dos salões de beleza e
as clínicas de estética, a palavra clínica traz todo um peso
médico para a questão do belo atual, de saúde, de normatização
do corpo, isto só pode ser compreensível num período marcado pela
biopolítica e controles normativos sobre o corpo e uma sociedade
ainda marcada pelo machismo. O senso estético dessas clínicas só
pode ser possível neste quadro histórico. A mesmo vale para a
experiência dos shoppings centers,
possível apenas no mundo da via-expressa descrito por Marshall em
Tudo que é sólido desmancha no ar.
A modernidade está em constante transformação, e é também uma
experiência estética, pois antes mesmo de ser posta em prática ela
foi pensada. As teorias tem por fim a prática.