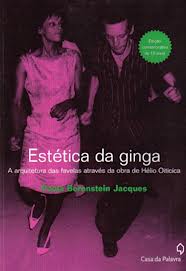Peter Gay já demonstrou que a História pode se aventurar junto com
a psicologia. Ambas áreas do conhecimento me interessam, e parecem
tocar numa questão importante do ser humano, a pele – ou seja, as
sensações, sentimentos. O século XX começou marcado pela crença
na modernidade, na tecnologia e na ciência como salvadoras do mundo,
uma “morte de Deus” já se anunciava no horizonte do século XIX
e parece ter se concretizado ao longo do século seguinte, com o
mundo ocidental se mostrando cada vez menos místico. Esta confiança
enorme nestes três elementos foi também um dos fatores que levaram
a coisas terríveis como as duas guerras mundiais e o fascismo e
totalitarismo. Algumas pessoas mais antenadas com seu tempo logo
perceberam que algumas coisas estão para além do bem e do mal, e
logo começaram a problematizar esta modernidade de princípios do
século XX, Benjamin, Heidegger e Reich podem ser citados aqui.
Junto com esta aposta no futuro, toda uma lógica histórica estava
intrínseca. Já teremos uma forte escolarização da população e
desde muito tempo a disciplina de história faz parte do currículo,
sempre esteve lá e parece impensável retirá-la. Pelos menos os
primórdios do século XX são marcados pela fiel promessa de um
futuro, é neste recorte temporal que as primeiras ficções
científicas aparecem, vale lembrar. Porém tal futuro foi se
mostrando ao longo de duas guerras, totalitarismos e outros episódios
desagradáveis, não tão dourado como o prometido.
Um exemplo importante para pensarmos isso, é a Alemanha. O país
começa o século como uma das maiores – senão a maior –
potência do mundo, e ao fim da segunda guerra vê sua população
expulsa de seus territórios (ver “O Tambor”) que vão ser
reduzidos e entregues para outros países e ainda por cima dividida
entre os dois blocos da guerra fria. Lembro da vez em que minha
professora de alemão comentou de seu namorado alemão durante sua
estada em Hamburgo, quando viam algum prédio antigo, ainda com
marcas de bala, ou o famigerado muro, campos de concentração entre
outras marcas de um passado recente, seu comentário usual era “es
tut mir weh” - “isso me
dói”. Seu sentimento era de dor e culpa, de forma clara, mesmo não
tendo vivido boa parte do tempo em que aquelas marcas – traumas –
foram feitos.
Existe uma história dos sentimentos, estes são difíceis de
rastrear, não que seja impossível, mas como saber dos sentimentos
de alguém no século XVII? Há formas e mais formas, a fonte não é
a grande limitação. Mas depois de vivenciarmos um período tão
marcado por decepções e traumas, ignorá-los se mostra até mesmo
falta de educação. Até porque estes sentimentos, a exemplo do
sentimento nacionalista, passa por uma construção histórica.
Afinal, foi o sentimento de revanche pela Alsácia-Lorena que
impulsionou a França na 1ª guerra, a sensação de ver seu país
saindo de uma grave crise e retomada da antiga grandiosidade dos
tempos do Kaiser que levou Hilter a ser ovacionado. O nazismo não
vai deixar de usar o passado para construir um sentimento de
confiança no povo alemão.
Depois de tudo que aconteceu, os alemães tiveram que mudar bastante,
buscar novos desdobramentos para esta modernidade que continua ai,
vai ver que é por isso que lá surgiram o krautrock, a música
eletrônica, uma série de cineastas consagrados (Wim Wnders,
Herzorg...) que trazem uma nova proposta estética para o cinema.
Talvez, partindo destes exemplos possamos olhar melhor para esta
construção dos sentimentos e o tempo histórico, alias, há pessoas
que até hoje se emocionam com a figura de Getúlio Vargas, mesmo que
tenha nascido depois da própria morte do então presidente. E não
só na Alemanha o tempo deixou traumas, o século XX parece um grande
caso psicológico, e vale lembrar, a América Latina não parece ter
se entendido ainda direito com seu recente passado ditatorial, até
porque ele lida com sentimentos, muito profundos para ambos os lados.